Artigos
Colheita manual representa 75,6% da área total de café em SP
A
colheita manual do café representou 75,6% da área total colhida na safra 2004/05
no Estado de São Paulo, bem abaixo dos 94,0% relativos à safra 1997/98. Os
percentuais de uso de colhedeiras e do sistema manual com auxílio de
equipamentos motorizados (inclui derriçadeiras mecânicas) foram,
respectivamente, de 5,4% e de 19,0%. Este é um dos destaques na
evolução das técnicas adotadas nas operações agrícolas do café, bem como no uso
da mão-de-obra, apontada em levantamento amostral referente às safras 1997/98 e
2004/05.1 Tabela 1 - Percentual
de área arada, plantada e capinada segundo o processo utilizado e percentual de
área adubada em cobertura e tratada com defensivos na cultura do café, Estado de
São Paulo, 1997/98 e 2004/05 
A
cultura do café pode ser conduzida com técnicas que englobam desde operações
manuais e tração animal até a mecanização quase total, em função do tamanho do
cafezal e da declividade do terreno. A operação da colheita ainda é
predominantemente manual.
A
importância econômica da cafeicultura na agricultura paulista é considerável. O
café é a terceira principal atividade, entre as culturas perenes e semi-perenes
cultivadas no Estado de São Paulo, em valor da produção (dados de 2005),
ultrapassado apenas pela cana-de-açúcar e pela laranja. A área cultivada com
café correspondia, em 2005, a 237,9 mil hectares, com produção obtida de 3,4
milhões de sacas (60 kg) de café beneficiado. Em 1998, a área cultivada era de
314,6 mil hectares e a produção atingiu 4,1 milhões de
sacas2.
A
operação de preparo do terreno (aração e gradeação) para o plantio de novos
cafezais ocupava apenas 0,2% do total de dias-homem utilizados em 2004/05,
abaixo dos 0,6% correspondentes à safra 1997/98. A utilização de tração animal
foi verificada em 24,1% da área arada e gradeada no Estado em 2004/05, com
decréscimo de aproximadamente 15 pontos percentuais dessa técnica em relação à
1997/98. Essa utilização se deve aos plantios em terrenos com acentuada
declividade ou em pequenas propriedades que não dispõem de tratores (tabela 1
e figura 1).3
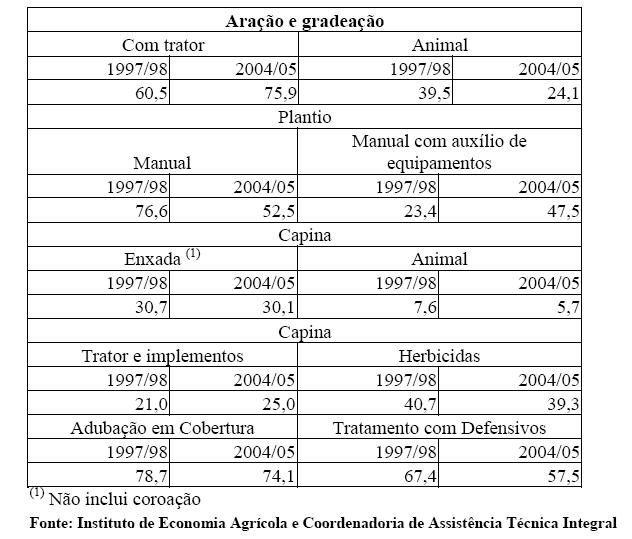
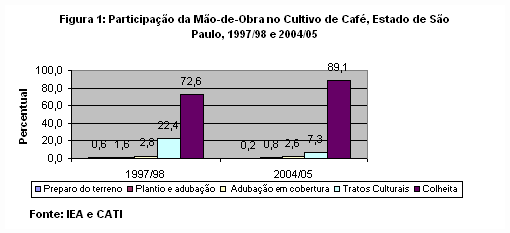
O
plantio de café ocorre principalmente no período chuvoso ou, fora deste, com
irrigação. Em 2004/05, a proporção de área irrigada foi de 3,4%. O plantio
manual, com auxílio de equipamentos (utiliza-se, por exemplo, o sulcador que
abre os sulcos onde serão marcados os locais de colocação de mudas)4,
foi realizado em 47,5% do total de hectares plantados em 2004/05. Este
percentual é superior ao observado no final da década de 1990 (23,4%), embora
muitos produtores ainda realizem a abertura de covas diretamente no alinhamento
das ruas de plantio. Verificou-se pequeno crescimento, para 75,1%, na área
adubada no plantio proporcionalmente ao total plantado em 2004/05, em relação
aos 74,4% em 1997/985.
As
operações de plantio e adubação corresponderam a 1,6% e 0,8% do total de
dias-homem ocupados, respectivamente, nas safras 1997/98 e 2004/05. Salienta-se
que estes valores podem oscilar em função de maiores ou menores incentivos aos
novos plantios (tabela 1 e figura 1).
As
capinas são operações importantes para a preservação da produtividade dos
cafezais. Na atualidade (2004/05), predomina o uso de herbicidas (39,3% da área
total capinada), de enxada (30,1%) e de trator e implementos (grade ou
roçadeira, 25,0%). A capina com animal é menos empregada; ou seja, representa
5,7% da área total capinada. Ao comparar as safras 1997/98 e 2004/05, pode se
constatar que o número de capinas realizadas durante o ano permaneceu inalterado
na técnica a enxada (2,9), apresentou redução para animal (de 2,8 para 2,5) e
trator e implementos (de 2,5 para 2,4) e cresceu de 1,9 para 2,3 com uso de
herbicidas. A significativa proporção das capinas química e mecânica tem
contribuído para a diminuição na mão-de-obra utilizada nos tratos culturais
(tabelas 1 e 2).
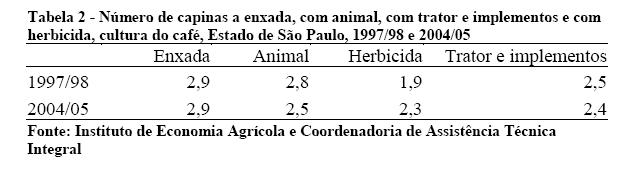
A
adubação em cobertura, outro trato cultural importante, apresenta diferenciações
nas dosagens em função da análise de solo. No segundo ano, ou seja, primeiro ano
após o plantio, realiza-se a adubação de formação, aplicando-se o nitrogênio em
cobertura e repetindo-se a adubação potássica de plantio. A partir do terceiro
ano (segundo ano após o plantio), a adubação de cobertura é realizada em função
do teor de N nas folhas e dos teores de P, K, Mn e Zn revelados na análise de
solo6.
Observou-se redução no percentual de área adubada em cobertura, passando de
78,7% em 1997/98 para 74,1% em 2004/05. O número de adubações (2,7) e a
quantidade de adubo químico por pé (0,59 kg) permaneceram inalterados, nas
safras analisadas. Esses dados constituem indicações, pois deve se levar em
conta possíveis diferenças nas fórmulas (NPK) (tabelas 1 e
3).
A
utilização de defensivos agrícolas tem por finalidade garantir a produtividade
dos outros insumos empregados na produção. A proporção da área tratada com
defensivos em relação à área total reduziu-se de 67,4%, em 1997/98, para 57,5%
em 2004/05, como também o número médio de tratamentos efetuados no ano, que
passou de 2,7 para 2,5 (tabelas 1 e 3).
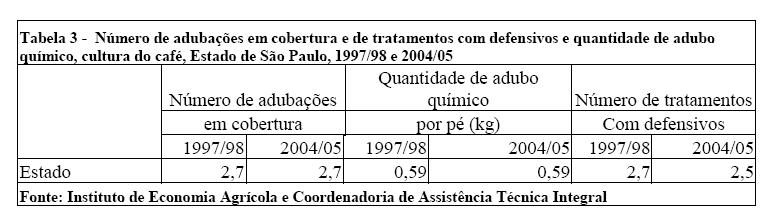
Além
dos tratos culturais mencionados, há também a poda dos cafeeiros, associada ao
plantio adensado e/ou fechamento da lavoura. São três os tipos de poda: recepa
(corte dos cafeeiros a uma altura de 30-50 cm do solo), decote (corte dos
cafeeiros a 1,50 m do solo) e esqueletamento (desgalhamento lateral dos
cafeeiros, deixando-se a haste principal com os ramos laterais com 30 a 40 cm de
comprimento)6.
A
tendência de declínio na participação dos tratos culturais no total da
mão-de-obra ocupada, observada nos anos 90, permanece em 2004/05, motivada
principalmente pelo crescimento do emprego de máquinas e implementos e do número
de capinas com herbicidas. Há que se considerar, também, a menor proporção de
plantas adubadas em anos de preços mais desfavoráveis para o café. Nas pequenas
unidades produtivas, os tratos culturais ainda têm representatividade no emprego
de mão-de-obra.
A
colheita de café - realizada no período de abril a setembro - constitui uma das
principais atividades do processo produtivo por ser um dos itens que mais pesam
nos custos de produção. Esta operação, que absorveu 72,6% do total de dias-homem
ocupados na cafeicultura em 1997/98, teve a sua representatividade elevada para
89,1% em 2004/05 (figura 1). Ao considerar o período de colheita, ou
seja, 180 dias, estima-se a ocupação de 50 mil a 60 mil pessoas, com variações
decorrentes da bianualidade da cultura, que por sua vez levam a oscilações no
percentual de participação da colheita na mão-de-obra
utilizada.
Algumas modalidades de colheita estão disponíveis ao setor e permitem ao
produtor decidir entre colheita manual, manual/mecânica e exclusivamente
mecânica. Aspectos como topografia e tamanho das lavouras devem ser considerados
na tomada de decisão sobre o sistema a ser
adotado7.
A
avaliação e a análise das informações sobre ocupação de mão-de-obra e das
técnicas utilizadas nos cafezais, obtidas no levantamento por amostragem com
representatividade para o Estado de São Paulo, permitem destacar as práticas que
passaram a ser adotadas no intuito de diminuir custos e aumentar a
competitividade do setor.8
______________________________________________
1Artigo
integrante do projeto Estratégias Comerciais E Caracterização Sócio-Econômica Da
Cafeicultura Paulista, inserido no Programa Nacional de Pesquisa e
Desenvolvimento do Café – PNP&D/Café. Tem por objetivo avaliar a evolução
das técnicas utilizadas na cultura do café com base em informações referentes às
safras agrícolas 1997/98 e 2004/05, obtidas por meio do levantamento amostral
denominado Objetivo, que coleta informações sobre as principais safras agrícolas
(algodão, amendoim, feijão, milho, soja, café, laranja e cana-de-açúcar), bem
como sobre mercado de trabalho e técnicas empregadas no Estado de São
Paulo.
2 Previsões e Estimativas das Safras Agrícolas do Estado de
São Paulo, Ano Agrícola 1997/98, Levantamento Final, Novembro de 1998.
Informações Econômicas, São Paulo, v. 29, n. 3, p. 70-83, março de 1999 e
CASER, D.V. et al. Previsões e estimativas das safras agrícolas do Estado de São
Paulo, 2º levantamento ano agrícola 2006/07, levantamento final ano agrícola
2005/06, novembro de 2006. Disponível em http://www.iea.sp.gov.br
3 Este
levantamento é realizado pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA) em parceria
com a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI). Até 1999 a amostra
era composta de 3.622 elementos (imóveis rurais), com delineamento amostral
segundo CAMPOS, H.; PIVA, L. H. O. Dimensionamento de amostra para estimativa e
previsão de safras no estado de São Paulo. Agricultura em São Paulo, São
Paulo, v. 21, n. 3, p. 65-88, 1974. A atual amostra probabilística é composta
por 3.204 Unidades de Produção Agropecuária (UPAs) e foi sorteada com base no
cadastro obtido no Censo Agropecuário realizado pela SAA e conhecido por Projeto
LUPA, com abordagem multivariada proposta por FRANCISCO, V. L. F. dos S.; PINO,
F. A. Estratificação de unidades de produção agrícola para levantamentos por
amostragem no estado de São Paulo. Agricultura em São Paulo, São Paulo,
v. 47, n. 1, p. 79-110, 2000. No caso da cultura do café, o questionário
"Medição da Técnica Empregada" foi enviado a campo em novembro. Os informes
sobre os diferentes processos utilizados e a demanda por mão-de-obra durante o
ano agrícola referem-se às operações de: plantio, irrigação, capinas, adubação
no plantio e em cobertura, tratamentos fitossanitários e
colheita.
4 O uso de sulcadores aumenta o rendimento da abertura de
covas, tornando mais econômica essa operação. Os sulcos, assim abertos, são de
espaço em espaço aprofundados e "acertados" com enxadões, transformando-se em
covas.
5A terra das covas deve ser misturada aos adubos orgânicos,
minerais e ao calcário, retornando à cova. Uma parcela dos cafeicultores efetua
a adubação de plantio, usando notadamente elementos simples (fósforo e potássio)
e micronutrientes, tais como boro, magnésio, zinco, cobre e
manganês.
6FAHL, J. I. et al. Instruções agrícolas para as
principais culturas econômicas. 6. ed. Campinas, SP: IAC, 1998. 396 p.
(Boletim 200).
7 VEGRO, C. L. R.; MARTIN, N. B.;
MORICOCHI, L. Sistema de produção e competitividade da cafeicultura paulista.
Informações Econômicas, São Paulo, v. 30, n. 6, p. 7-44, jun.
2000.
8 Artigo registrado no CCTC-IEA sob número
HP-25/2007.
Data de Publicação: 30/03/2007
Autor(es):
Maria Carlota Meloni Vicente (carlota@iea.sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor
Carlos Eduardo Fredo (cfredo@sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor
Celma Da Silva Lago Baptistella (csbaptistella@sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor
Vera Lucia Ferraz dos Santos Francisco Consulte outros textos deste autor


